Leia em primeira mão prefácio do poeta Charles Baudelaire ao livro
“Contos de Imaginação e Mistério”, de Edgar Allan Poe, que sai no Brasil
no final de maio pela Editora Tordesilhas.
PREFÁCIO
Outras anotações sobre Edgar Poe
I
Literatura da decadência! – Palavras sem sentido que
frequentemente ouvimos cair, com o som enfático de um bocejo, da boca
daquelas esfinges sem segredo que velam às santas portas da Estética
clássica. Toda vez que o oráculo irrefutável ressoa, pode-se afirmar que
se trata de uma obra mais interessante que a Ilíada. É o caso,
evidentemente, de um poema ou de um romance no qual todas as partes são
dispostas habilmente em prol da surpresa, no qual o estilo é ornado
magnificamente, no qual todos os recursos da linguagem e da prosódia
são utilizados por uma mão impecável. Quando ouço ecoar o anátema – que,
seja dito de passagem, geralmente cai sobre algum poeta célebre – sou
sempre tomado pela vontade de responder: “Acaso vocês me tomam por
alguém tão bárbaro quanto vocês, e creem que eu seja capaz de me
divertir de forma tão sofrível?” Comparações grotescas então se põem em
funcionamento no meu cérebro; parece que fui apresentado a duas
mulheres: uma matrona grosseira, repugnante do ponto de vista da saúde e
da moral, sem postura, em suma, sem dever nada, a não ser à pura natureza;
a outra, uma daquelas belezas que dominam e oprimem a lembrança,
unindo a eloquência de sua elegância ao seu charme profundo e original,
senhora de si, consciente e rainha da própria pessoa – uma voz que soa
como se um instrumento bem afinado estivesse falando, e olhares que não
transmitem senão o que querem. Minha escolha não poderia ser mais
simples; no entanto, há esfinges pedagógicas que me repreenderiam por
faltar à honra clássica. Mas, para deixar as parábolas de lado, acredito
que posso perguntar a esses homens sábios se eles entendem toda a
vaidade, toda a inutilidade de sua sabedoria. Dizer literatura da decadência implica
a existência de uma escala de literaturas, uma recém-nascida, outra
pueril, uma adolescente, etc. Esse termo, quero dizer, pressupõe algo de
fatal e de providencial, como um decreto inevitável; e é extremamente
injusto nos criticarem por cumprir a lei misteriosa. Tudo o que consigo
entender do discurso acadêmico é ser vergonhoso obedecer a essa lei de
bom grado e sermos culpados por nos regozijarmos com nosso destino. Esse
sol que, há poucas horas, dominava tudo com luz direta e branca, em
breve irá encharcar o horizonte ocidental com várias cores. Nos jogos
desse sol agonizante, certos espíritos poéticos encontrarão novos
prazeres; eles descobrirão uma fileira de colunas deslumbrantes,
cascatas de metal fundido, galerias de fogo, um esplendor triste, a
volúpia da saudade, todos os encantos do sonho, todas as lembranças do
ópio. E o pôr do sol lhes parecerá de fato como a maravilhosa alegoria
de uma alma carregada de vida que vai para trás do horizonte com uma
enorme provisão de pensamentos e sonhos.
Mas o que os professores não pensaram é que, no movimento da vida,
tal complicação, tal combinação pode se apresentar completamente
inesperada por sua sabedoria escolar. Então sua língua minguada se
encontra em falta, como no caso – fenômeno que se multiplicará com
prováveis variantes – no qual uma nação começa pela decadência e estreia
onde as outras terminam.
Que entre as imensas colônias do presente século se façam novas
literaturas produzirá, sem dúvida alguma, acidentes espirituais de uma
natureza desconcertante para o espírito da escola. Jovem e velha ao
mesmo tempo, a América fala pelos cotovelos e caduca com uma
volubilidade espantosa. Quem seria capaz de contar seus poetas? São
inumeráveis. Suas bluestockings? Elas enchem os jornais. Seus
críticos? Acredite, a América possui pedantes como os nossos para chamar
o artista o tempo todo de volta à beleza antiga, para questionar um
poeta ou romancista sobre a moralidade do seu objetivo e a qualidade das
suas intenções. O que é comum aqui é ainda mais comum lá, literaturas
que não sabem sequer a ortografia; uma atividade pueril inútil; um
sem-número de compiladores; gente que se repete o tempo todo;
plagiários de plágios e críticos de críticos. Nesse caldeirão de
mediocridades, nesse mundo que adora aperfeiçoamentos materiais –
escândalo de um gênero novo que permite compreender a grandeza dos povos
preguiçosos –, nessa sociedade ávida por assombramento, apaixonada pela
vida, mas, sobretudo, por uma vida cheia de excitações, um homem foi
grande não apenas por sua sutileza metafísica, pela beleza sinistra ou
encantadora do que concebeu, pelo rigor de suas análises, mas também foi
grande como caricatura. É preciso que eu me explique com
alguma inquietação, pois recentemente um crítico imprudente se servia,
para denegrir Edgar Poe e contestar a sinceridade da minha admiração, da
palavra malabarista, que eu mesmo havia empregado quase como um elogio ao nobre poeta.
Do seio de um mundo esfomeado por materialidades, Poe se jogou no
sonho. Sufocado como estava pela atmosfera americana, escreveu na
dedicatória de Eureka: “Ofereço este livro àqueles que puseram
fé no sonho como única realidade!” Foi, portanto, um protesto
admirável, que ele fez à sua maneira, in his own way. O autor que, n’O colóquio de Monos e Una,
deixa abundante o desprezo e o desgosto pela democracia, pelo
progresso e pela civilização é o mesmo autor que, para capturar a
credulidade e satisfazer a curiosidade dos seus, reconheceu com mais
vigor a soberania humana e fabricou com mais engenho os factoides mais
lisonjeiros ao orgulho do homem moderno. Hoje, Poe me parece
um hilota3 que pretende fazer seu mestre corar. Por fim, afirmando
minhas ideias de modo ainda mais claro, Poe foi sempre grande, não
apenas pelas concepções nobres, mas também pelas farsas.
II
Pois ele nunca foi ludibriado! Não acredito que o virginiano, que
escreveu tranquilamente em plena explosão democrática “O povo não tem
relação alguma com as leis, a não ser a obediência”, jamais tenha sido
vítima da sabedoria moderna; e “O nariz da ralé é a imaginação; é pelo
nariz que sempre se poderá guiá-la com facilidade” e tantas outras
passagens nas quais a zombaria chora, pesada como artilharia, mas, ainda
assim, descuidada e altiva. Os swendenborgeanos o felicitam por sua Mesmeric Revelation [Revolução hipnótica] à semelhança daqueles ingênuos iluminados que outrora olhavam o autor de Le diable amoureux [O
diabo apaixonado] como revelador de seus mistérios; eles lhe agradecem
pelas grandes verdades que acaba de proclamar, pois descobriram (ó,
verificador do que não pode ser verificado!) que tudo o que ele anunciou
é completamente verdadeiro, mesmo que antes, confessa essa boa gente,
eles houvessem suspeitado que pudesse se tratar de mera ficção. Poe
responde que, de sua parte, jamais duvidou. Ainda é preciso citar uma
pequena passagem que me salta aos olhos enquanto folheio pela centésima
vez as incríveis Marginalia, que são como a câmara secreta do
seu espírito: “A enorme multiplicação de livros de todos os ramos do
conhecimento é uma das maiores calamidades desta época, pois é um dos
obstáculos mais sérios à aquisição de qualquer conhecimento preciso”.
Aristocrata por natureza mais que por nascimento, o virginiano, o homem
do sul, o Byron perdido em um mundo ruim sempre manteve sua
impassibilidade filosófica, e, seja definindo o nariz da ralé, zombando
dos fabricantes de religiões ou desprezando as bibliotecas, resta aquele
que foi e será sempre o verdadeiro poeta – uma verdade vestida de forma
bizarra, um paradoxo aparente, alguém que não quer ser acotovelado em
meio à multidão e que corre ao Extremo Oriente quando os fogos de
artifício vão rumo ao poente.
Mas eis o ponto mais importante: notaremos que esse autor, produto de
um século orgulhoso de si mesmo, filho de uma nação mais orgulhosa de
si mesma que qualquer outra, viu com clareza e afirmou impassivelmente a
perversidade do homem. Há no homem, diz ele, uma força misteriosa que a
filosofia moderna é incapaz de perceber; e, no entanto, sem essa força
inominada, sem essa tendência primordial, várias ações humanas
permanecerão inexplicadas, inexplicáveis. Essas ações não atraem senão porque são
más, perigosas; elas têm a atração do redemoinho. Tal força primitiva,
irresistível, é a Perversidade natural que faz com que o homem seja o
tempo todo e ao mesmo tempo homicida e suicida, criminoso e carrasco;
pois, ele acrescenta com sutileza notavelmente satânica, a
impossibilidade de encontrar um motivo razoável para certas ações más e
perigosas poderia nos levar a considerá-las como sugestão do Demônio se a
experiência e a história não nos ensinassem que Deus costuma
desestabilizar a ordem e negligenciar o castigo aos faltosos; após ter se valido dos mesmos faltosos como cúmplices,
tal é a palavra que passa, confesso, pelo meu espírito, como
subentendido tão pérfido quanto inevitável. No entanto, não quero, no
presente instante, cuidar de nada a não ser da verdade esquecida, a
perversidade primordial do homem, e não é sem satisfação que vejo alguns
destroços da antiga sabedoria voltarem de um país de onde não os
esperaríamos. É agradável que algumas explosões da boa e velha verdade
sejam jogadas dessa maneira na cara de todos os que louvam a raça
humana, de todos esses apaziguadores e atenuadores que repetem em todos
os tons possíveis “Nasci bom, você também, todos nós nascemos bons!”
esquecendo, não!, fingindo esquecer o outro lado, que nascemos marcados
pelo mal!
Por qual mentira ele poderia ser ludibriado, aquele que às vezes –
dolorosa necessidade dos meios – as talhava tão bem? Que desprezo pela
filosofaria, em seus melhores dias, quando ele era, por assim dizer,
iluminado! Esse poeta, de quem várias ficções parecem feitas por simples
gosto, para confirmar a pretensa onipotência do homem, quis purgar
algumas vezes a si mesmo. O dia em que escreveu “Toda certeza está nos
sonhos” foi quando repeliu seu próprio americanismo para a região das
coisas inferiores; outras vezes, retomando o verdadeiro caminho dos
poetas, obedecendo sem dúvida à inelutável verdade que nos assombra como
um demônio, ele soltava os ardentes suspiros do anjo caído que se lembra dos Céus; mandava sua angústia à idade de ouro e ao Éden perdido; chorava toda essa magnificência da natureza, contorcendo-se diante do bafo quente dos fornos; enfim, lançava essas páginas admiráveis: O colóquio de Monos e Una, que teriam encantado e perturbado o impecável De Maistre.
Foi ele quem disse sobre o socialismo, na época em que isso sequer
tinha um nome, ou quando esse nome ainda não tinha sido vulgarizado: “O
mundo está infestado atualmente por uma nova seita de filósofos, que
não se reconhecem como seita e, consequentemente, não adotaram um nome.
São os crentes em toda velharia (ou seja: pregadores do velho).
O grande padre deste lado do Atlântico é Charles Fourier, e, do outro
lado, Horace Greely. O único traço comum entre os membros da seita é a
credulidade – chamemos a isso de demência e não falemos mais. Pergunte a
um deles por que acredita nisso ou naquilo e, se ele for consciencioso
(os ignorantes geralmente são), lhe dará uma resposta análoga à que deu
Talleyrand4 quando lhe perguntaram por que ele acreditava na Bíblia.
‘Acredito’, ele disse, ‘primeiro porque sou bispo de Autun e em segundo
lugar porque não entendo absolutamente nada.’ O que esses filósofos chamam de argumento é para eles uma maneira de negar o que é e de explicar o que não é.”
O progresso, essa grande heresia da decrepitude, não podia lhe
escapar. O leitor verá, em diferentes passagens, os termos usados para
caracterizá-lo. De fato, poderia ser dito, ao ver o ardor empregado,
que ele se vingava como que de uma vergonha pública, de uma ofensa da
rua. Como ele deve ter rido, daquele riso desdenhoso dos poetas, que não
engrossa jamais o coro dos curiosos, se deu de encontro, como me
ocorreu recentemente, com aquela frase maravilhosa que faz os bufões e
os voluntários sonharem absurdos dignos de palhaços e que vi se exibir
em um jornal mais que sério: O progresso incessante da ciência
permitiu, pouco tempo atrás, que se encontrasse o segredo perdido e há
muito tempo buscado de… (fogo grego, têmpera de cobre, qualquer coisa perdida), do qual as aplicações mais bem-sucedidas remontam a uma época bárbara e muito antiga!!! Eis uma frase que pode se chamar de um verdadeiro achado, de uma sonora descoberta, mesmo em um século de progresso incessante;
mas acredito que a múmia Allemistakeo não deixaria de perguntar, com o
tom doce e discreto da superioridade, se foi também graças ao progresso incessante –
à lei fatal, irresistível, do progresso – que esse famoso segredo foi
perdido. Assim que, para manter o tom de farsa, em um assunto que contém
tanto de riso quanto de lágrimas, não é estupendo ver uma nação, várias
nações, em breve toda a humanidade, dizer a seus sábios, a seus
feiticeiros “Eu os adorarei e os farei grandes se vocês me persuadirem
de que progredimos sem querer, inevitavelmente, enquanto dormimos;
livrem-nos da responsabilidade, encubram para nós a humilhação das
comparações, sofistiquem a história e poderão se chamar de sábios dos
sábios”? Não é matéria para espanto que essa ideia tão simples não
estoure em todos os cérebros: que o progresso (enquanto haja progresso)
aperfeiçoe a dor na mesma medida em que refina a volúpia, e que, se a
epiderme dos povos se torna mais delicada, eles não buscam nada além de
uma Italiam fugientem5, uma conquista perdida a cada minuto, um progresso que nega a si mesmo o tempo todo.
Mas essas ilusões, a princípio interessantes, têm origem em um fundo
de perversidade e de mentira, atraem as almas apaixonadas pelo fogo
eterno, como Edgar Poe, e exasperam as inteligências obscuras, como
Jean-Jacques6, em quem uma sensibilidade ferida e propensa à revolta
toma o lugar da filosofia. Que esse homem tenha razão contra o animal depravado é
incontestável; mas o animal depravado tem o direito de criticá-lo por
invocar a natureza. A natureza não cria nada além de monstros, e toda a
questão se expõe na palavra selvagem.
Nenhum filósofo ousará propor como modelo aquelas hordas podres,
infelizes, vítimas dos elementos, pasto de bestas, tão incapazes de
fabricar armas quanto de conceber a ideia de um poder espiritual e
supremo. Mas, se quisermos comparar o homem moderno, o homem
civilizado, ao homem selvagem, ou, mais além, uma nação dita civilizada
a uma nação dita selvagem, ou seja, privada de todas as engenhosas
invenções que dispensam o indivíduo de heroísmo, quem não percebe que
todas as honrarias vão para os selvagens? Por sua natureza, pela própria
necessidade, eles são enciclopédicos, enquanto o homem moderno se
encontra confinado nas minúsculas regiões da especialidade. O homem
civilizado inventa a filosofia do progresso para se consolar de sua
abdicação e decadência; enquanto o homem selvagem, marido temido e
respeitado, guerreiro forçado à bravura individual, poeta às horas
melancólicas quando o pôr do sol o convida a cantar o passado e os
ancestrais, corta de mais perto a fronteira do ideal. Por qual lacuna
nós ousaríamos repreendê-lo? Ele tem seu padre, seu feiticeiro e seu
médico. O que eu estou dizendo? Ele tem o dândi, encarnação suprema do
belo transportado à vida material, aquele que dita a forma e governa os
costumes. Suas roupas, seus enfeites e seu cachimbo testemunham uma
faculdade inventiva da qual desertamos há muito tempo. Podemos comparar
nossos olhos preguiçosos e nossos ouvidos ensurdecidos àqueles olhos
que perscrutam a névoa e àqueles ouvidos que ouviriam a grama crescer? E
a selvageria, a alma simples e infantil, animal obediente e carinhoso
que se doa inteiro e sabe que não é senão metade de um destino, nós a
decretaremos inferior à senhora americana a qual o sr. Bellegarrigue
(redator do Moniteur de l´épicerie [Monitor da mercearia]!)
acreditou elogiar ao dizer que era o ideal da mulher bem cuidada? Essa
mesma mulher, cuja moral bastante positiva inspirou Edgar Poe (tão
galante, tão respeitoso à beleza!) as tristes linhas seguintes: “Essas
bolsas enormes, que parecem um pepino gigante e estão na moda entre
nossas belas, não são, como se acredita, de origem parisiense; são
perfeitamente indígenas. Por que uma moda assim surgiria em Paris, onde
uma mulher não carrega nada na bolsa além de dinheiro? Mas a bolsa de
uma americana! É preciso que essa bolsa seja vasta o suficiente para
que ela possa fechar ali todo seu dinheiro – e toda sua alma!” Quanto à
religião, não falarei de Vitziliputzli7 com a mesma delicadeza de Alfred
de Musset; confesso, sem vergonha, uma preferência muito maior pelo
culto de Teutates8 ao de Mamon9, e o padre que oferece ao cruel
chantagista hóstias humanas de vítimas que morrem honrosamente, de vítimas que querem morrer,
me parece um ser inteiramente doce e humano em comparação ao financista
que não imola o povo a não ser em interesse próprio. De tempos em
tempos, essas coisas ainda são vislumbradas, e encontrei uma vez em um
artigo do sr. Barbey d’Aurevilly uma exclamação de tristeza filosófica
que resume tudo o que eu gostaria de dizer sobre esse assunto: “Povos
civilizados, que não param de lançar pedras aos selvagens, em breve
vocês não merecerão ser nem mesmo idólatras!”
Um ambiente como esse – já disse, mas não posso resistir à vontade de
repetir – não é feito pelos poetas. O que um espírito francês, suponha o
mais democrático, entende por um Estado, não encontraria lugar em um
espírito americano. Para toda a inteligência do velho mundo, um estado
político tem um centro de movimento que é seu cérebro e seu sol,
memórias antigas e gloriosas, longos anais poéticos e militares, uma
aristocracia, à qual a pobreza, filha das revoluções, não faz senão
acrescentar um lustre paradoxal; mas, isso! essa multidão de
vendedores e consumidores, esse inominável, esse monstro sem cabeça,
essa degradação do outro lado do oceano, Estado! – estou de acordo que
um cabaret cheio da balbúrdia das más intenções e de clientes que tratam de negócios nas mesas sujas possa ser assimilado a um salon, ao que nós chamaríamos salon outrora, república do espírito presidida pela beleza!
Será sempre difícil exercer, de forma ao mesmo tempo nobre e
frutífera, a condição de homem de letras sem se expor à difamação, à
calúnia dos impotentes, à inveja dos ricos – inveja que é o castigo
deles! – às vinganças da mediocridade burguesa. Mas isso, difícil em uma
monarquia moderada ou em uma república regular, torna-se quase
impraticável em uma espécie de cafarnaum onde cada sargento faz
a polícia conforme seus vícios (ou suas virtudes, é a mesma coisa);
onde um poeta ou um romancista de um país de escravos é detestável aos
olhos de um crítico abolicionista; onde é impossível saber qual é o
maior escândalo – o desleixo do cinismo ou a imperturbabilidade da
hipocrisia bíblica. Queimar os negros acorrentados, culpados por sentir
seu semblante preto fervilhar com o vermelho da honra, disparar um
revólver contra a plateia do teatro, estabelecer a poligamia no paraíso
do Oeste, que os selvagens (esse termo soa como uma injustiça) ainda não
haviam sujado com essas vergonhosas utopias, colar nos muros, sem
dúvida para consagrar o princípio da liberdade ilimitada, a cura para as doenças de nove meses,
são alguns dos traços salientes, algumas das ilustrações morais do
nobre país de Franklin, o inventor da moral de balcão, o herói de um
século dedicado à matéria. É bom chamar atenção constantemente para tais
maravilhas de brutalidade em um tempo em que a mania pela América se
tornou quase uma paixão de bom tom, a ponto de um arcebispo poder nos
prometer, sem rir, que a Providência nos chamaria logo a gozar desse
ideal transatlântico.
III
Um meio social desse feitio engendra necessariamente erros literários
equivalentes. É contra esses erros que Poe reagiu sempre que pôde e com
toda a força. Portanto, não deve nos espantar que os escritores
americanos, reconhecendo seu poder singular como poeta e contista,
tenham sempre tentado invalidar seu valor como crítico. Em um país no
qual a ideia de utilidade, a mais hostil do mundo à ideia de beleza,
controla tudo, o crítico perfeito será o mais honrado - em
outras palavras, aquele cujas tendências e cujos desejos se aproximem
mais das tendências e dos desejos do público, aquele que embaralha as
faculdades e os gêneros de produção e atribui a todos uma meta comum –
se procurar, em um livro de poesia, meios para aperfeiçoar a
consciência. Naturalmente, o indivíduo se torna cada vez menos
preocupado com as belezas reais, positivas, da poesia; assim como ficará
cada vez menos chocado com as imperfeições e mesmo com as falhas da
execução. Edgar Poe, ao contrário, dividindo o mundo do espírito em intelecto puro, gosto e sentido moral, aplicava
a crítica de acordo com essas três categorias. Ele era, sobretudo,
sensível à perfeição da estrutura e à correção da execução; desmontando
obras literárias como se fossem peças mecânicas defeituosas (em relação à
meta que visam alcançar), apontando cuidadosamente os vícios de
fabricação; e, quando passava ao detalhe da obra, à sua expressão
plástica, ao estilo, em uma palavra, descascava, sem omissão, as falhas
de prosódia, os erros gramaticais e toda essa massa de dejetos, que,
entre os escritores que não são artistas, maculam as melhores intenções e
deformam as concepções mais nobres.
Para ele, a imaginação é a rainha das faculdades; no entanto, por
essa palavra entende-se algo maior do que aquilo que a maioria dos
leitores percebe. Imaginação não é a fantasia; não é a sensibilidade,
mesmo que seja difícil conceber um homem imaginativo que não seja
sensível. A imaginação é uma faculdade quase divina que percebe tudo com
antecedência, à parte dos métodos filosóficos, as relações íntimas e
secretas das coisas, as correspondências e as analogias. As honrarias e
funções que ele confere a essa faculdade carregam um valor tal (ao menos
quando se compreende bem o pensamento do autor), que um sábio sem
imaginação não parece mais que um falso sábio ou, quando muito, um sábio
incompleto.
Entre os domínios literários onde a imaginação pode obter os
resultados mais curiosos, pode colher tesouros, não os mais ricos e
preciosos (esses pertencem à poesia), mas os mais numerosos e variados,
está um particularmente querido a Poe, o conto. Ele tem sobre o
romance de grandes proporções a imensa vantagem que a brevidade
acrescenta à intensidade do efeito. Tal leitura, que pode ser realizada
de um único fôlego, deixa no espírito uma marca muito mais poderosa que
uma leitura intermitente, muitas vezes interrompida por problemas de
negócios e preocupações com interesses mundanos. A unidade da impressão,
a totalidade do efeito é uma vantagem imensa que pode dar a
esse gênero de composição uma superioridade muito especial, no sentido
de que um conto muito curto (o que é, sem dúvida, um defeito) seja ainda
melhor que um conto muito extenso. O artista, se é hábil, não acomodará
seus pensamentos aos incidentes; mas, tendo concebido deliberadamente,
a seu bel-prazer, um efeito a produzir, inventará os incidentes,
arranjará os eventos mais apropriados para conduzir ao efeito desejado.
Se a primeira frase não for escrita de forma a preparar a impressão
final, a obra é deficiente desde o começo. Ao longo da composição não se
deve soltar uma única palavra que não seja uma intenção, que não tenda,
direta ou indiretamente, a percorrer o plano traçado.
Há um ponto no qual o conto é superior até mesmo ao poema. O ritmo é
necessário ao desenvolvimento da ideia de beleza, que é o maior e mais
nobre objetivo do poema. Ora, os artifícios do ritmo são um obstáculo
insuperável ao desenvolvimento minucioso de pensamentos e expressões
que tenham por objetivo a verdade. Pois a verdade pode muitas
vezes ser a meta do conto, e o raciocínio a melhor ferramenta para a
construção de um conto perfeito. Eis a razão pela qual esse gênero de
composição, que não é tratado com tanta elevação quanto a poesia pura,
pode fornecer produtos mais variados e mais acessíveis ao gosto do
leitor comum. Além disso, o contista tem à sua disposição uma enorme
quantidade de tons, de nuances de linguagem – o tom reflexivo, o
sarcástico, o humorístico, que repudia a poesia – e que são como
dissonâncias, ultrajes à ideia de beleza pura. E é pelo mesmo motivo que
o escritor que busca uma única meta de beleza em um conto trabalha em
grande desvantagem, sendo privado do instrumento mais útil, o ritmo. Sei
que, em todas as literaturas, foram feitos esforços, muitas vezes
felizes, para criar contos puramente poéticos; o próprio Edgar Poe fez
alguns muito bonitos. Mas são lutas e esforços que servem apenas para
demonstrar a força dos verdadeiros recursos adaptados às metas
correspondentes; não seria arriscado afirmar que para alguns autores, os
maiores nos quais podemos pensar, essas tentações heroicas viessem de
um desespero.
IV
“Genus irritabile vatum!10 Que os poetas (vamos utilizar a
palavra em seu sentido mais extenso, compreendendo todos os artistas)
sejam uma raça irritável é bem sabido; mas o porquê não me
parece tão claro. O artista não é artista senão por sua compreensão
refinada do belo, o que lhe proporciona deleites inebriantes, mas, ao
mesmo tempo, implica uma compreensão igualmente refinada de toda
deformidade e desproporção. Portanto, um erro, uma injustiça contra um
poeta o exaspera de tal maneira que pode parecer, ao julgamento comum,
em completa disparidade em relação à injustiça cometida. Os poetas nunca veem
injustiça onde não existe, mas, na maioria das vezes, onde os olhos não
poéticos são incapazes de vê-la. Dessa forma, a irritabilidade poética
não tem relação com o temperamento, entendido em sua acepção
vulgar, mas com uma clarividência além do normal relativa à falsidade e à
injustiça. Tal clarividência nada mais é que um corolário da percepção
viva do real e da justiça, da proporção, para empregar uma palavra
relacionada ao belo. Mas há uma coisa muito clara, o homem que não é (ao
julgamento comum) irritabilis não é, de forma alguma, poeta.”
São palavras do próprio poeta, em uma apologia excelente e
irrefutável a toda sua raça. Poe levava essa sensibilidade aos assuntos
literários, e a extrema importância que conferia à poesia o induzia
muitas vezes a um tom, segundo o julgamento dos mais frágeis, de
superioridade. Já observei, acredito, que muito dos preconceitos que ele
precisava combater, ideias falsas, julgamentos vulgares que circulavam
a seu respeito, infectaram a imprensa francesa há um bom tempo. Não
será inútil, portanto, observar sumariamente algumas de suas opiniões
mais importantes em relação à composição poética. O paralelismo com o
erro tornará a aplicação bastante fácil.
Mas, antes de tudo, devo dizer que, ao destacar o poeta natural,
inato, Poe também destacava a ciência, o trabalho e a análise, o que
parecerá exorbitante aos orgulhos não eruditos. Ele não apenas
dispensou esforços consideráveis para submeter à sua vontade o demônio
fugitivo dos minutos felizes, para lembrar a seu gosto essas sensações
refinadas, essas ânsias espirituais, esses estados de saúde poética, tão
raros e preciosos que poderiam ser considerados graças exteriores ao
homem, como aparições; mas ele também submeteu a inspiração ao método, à
análise mais severa. A escolha dos meios! Ele insiste o tempo todo em
uma eloquência consciente da apropriação do meio ao efeito, do uso da
rima, da lapidação do refrão, da adaptação da rima ao sentimento. Ele
afirmava que quem não sabe tocar o intangível não é poeta; que só é
poeta quem é mestre da memória, soberano das palavras, estando o
registro de seus próprios sentimentos sempre prontos a se deixar
folhear. Tudo pelo desenlace! ele repete incansavelmente. Até o soneto
tem necessidade de um plano, e a construção, a armação, por assim dizer,
é a garantia mais importante da vida misteriosa das obras do espírito.
Recorro naturalmente ao ensaio intitulado The Poetic Principle [O
princípio poético] e nele encontro, desde o começo, um protesto
vigoroso contra o que se pode chamar, em matéria de poesia, de heresia
do comprimento ou da dimensão – o valor absurdo atribuído aos poemas
longos. “Um poema longo não existe; o que se entende por poema longo é
uma perfeita contradição em termos.” De fato, um poema não merece esse
nome a não ser quando estimula, eleva a alma, e o valor positivo de um
poema se dá em função de tal estímulo da alma. Mas, por
necessidade psicológica, todos os estímulos são fugitivos e
transitórios. Esse estado singular no qual a alma do leitor foi,
digamos, pega à força, certamente não durará mais que a leitura do
poema, que ultrapassa a tenacidade do entusiasmo da qual a natureza
humana é capaz.
Eis o poema épico evidentemente condenado. Pois uma obra de certa
dimensão não pode ser considerada poética a não ser que se sacrifique a
condição vital de toda obra de arte, a Unidade; não falo da unidade da
concepção, mas da unidade da impressão, da totalidade do
efeito, como já disse quando coparei o romance ao conto. O poema épico,
portanto, se apresenta, esteticamente falando, como um paradoxo. É
possível que as eras antigas tenham produzido séries de poemas líricos,
reunidos posteriormente pelos compiladores como poemas épicos; mas toda
intenção épica resulta evidentemente de uma acepção imperfeita
da arte. O tempo dessa anomalia artística passou, e é difícil acreditar
que um poema extenso tenha sido popular um dia.
É preciso acrescentar que um poema muito curto, aquele que não fornece um pabulum suficiente
ao estímulo criado, que não satisfaz o apetite natural do leitor,
também é defeituoso. Não importa a intensidade e o brilho do efeito,
ele não dura; a memória não o retém; é como um selo que, colocado com
pressa, não teve tempo de impor sua imagem à cera.
No entanto, há outra heresia, que, graças ao fingimento, ao peso e à
baixeza dos espíritos, é muito mais temível e apresenta maiores
possibilidades de duração, um erro que tem vida mais resistente, falo da
heresia do ensino, a qual compreende como corolários inevitáveis as heresias da paixão, da verdade e da moral.
Uma multidão imagina que o objetivo da poesia seja um ensino qualquer,
que ela deva ora fortalecer a consciência, ora aperfeiçoar a moral, ora,
por fim, demonstrar seja lá o que for de útil. Edgar Poe diz que os americanos apadrinharam essa ideia heterodoxa; helas! Não
é preciso ir a Boston para encontrar a heresia em questão. Aqui mesmo
ela nos sitia e ataca cotidianamente a verdadeira poesia. A poesia, por
mais que se queira descer a si mesmo, interrogar a própria alma, evocar
as lembranças do entusiasmo, não tem outro objetivo a não ser ela mesma;
não pode ter outro, e nenhum poema será tão grande, tão nobre, tão
digno do nome de poema quanto aquele que houver sido escrito unicamente
pelo prazer de escrever um poema.
Não digo que a poesia não enobreça a moral, entenda bem, que seu
resultado final não seja colocar o homem acima dos interesses vulgares;
isso seria, sem dúvida, um absurdo. Digo que, se o poeta buscou uma
meta moral, diminuiu sua força poética. E não será imprudente apostar
que sua obra será ruim. A poesia não pode, sob pena de desfalecimento
ou morte, assemelhar-se à ciência ou à moral; ela não tem a verdade por
objeto, tem a si mesma. Os modos de demonstração da verdade são outros e
estão em outros lugares. A verdade não tem nada a ver com canções. Tudo
o que faz o encanto, a graça, o irresistível de uma canção privaria a
verdade de autoridade e poder. Frio, calma, impassibilidade, o humor
demonstrativo repele os diamantes e as flores da Musa; eis, portanto, o
perfeito oposto do humor poético.
O intelecto visa à verdade, o gosto nos mostra a beleza e o sentido
moral nos ensina o dever. É verdade que o meio está intimamente
conectado aos dois extremos e não se separa do sentido moral a não ser
por uma ligeira diferença, que Aristóteles não hesitou em dispor entre
algumas das virtudes de seus delicados esquemas. Assim, o que exaspera
no espetáculo do vício, sobretudo ao homem de gosto, é a deformidade, a
desproporção. O vício agride o justo e o verdadeiro, revolta o intelecto
e a consciência; mas, como ofensa à harmonia, como dissonância, ele
atinge mais de perto certos espíritos poéticos; e não creio ser
escandaloso considerar toda infração moral, à beleza moral, como uma
espécie de falha universal de ritmo e de prosódia.
É esse instinto admirável, imortal, do belo que nos faz considerar a
terra e os espetáculos como um vislumbre, como uma correspondência do
Céu. A sede insaciável por tudo que está do outro lado, e que revela a
vida, é a prova mais viva da nossa imortalidade. É ao mesmo tempo para a
poesia e através da poesia, para a música e através dela
que a alma entrevê os esplendores situados além-túmulo; e, quando um
poema sublime traz lágrimas aos olhos, essas lágrimas não são prova de
um excesso de deleite, são muito mais o testemunho de uma melancolia
irritada, de uma súplica dos nervos, de uma natureza exilada na
imperfeição e que gostaria de ganhar imediatamente, nessa mesma terra, o
paraíso revelado.
Assim, o princípio da poesia é estrita e simplesmente a aspiração
humana a uma beleza superior, e a manifestação de tal princípio está em
um entusiasmo, um estímulo da alma – entusiasmo completamente
independente da paixão, que é a embriaguez do coração; e da verdade, o
pasto da razão. Pois a paixão é natural, natural demais para
não introduzir um tom ofensivo, discorde no domínio da beleza pura,
familiar e violenta demais para não escandalizar os desejos puros, as
melancolias graciosas e os desesperos nobres que habitam as regiões
sobrenaturais da poesia.
Essa elevação extraordinária, essa delicadeza refinada, esse tom de
imortalidade que Edgar Poe exige da Musa, ao invés de deixá-lo menos
atento às práticas de execução, forçou-o a afiar cada vez mais sua
genialidade técnica. Muitas pessoas, sobretudo as que leram o singular
poema intitulado O corvo, ficariam escandalizadas se eu
analisasse o ensaio no qual nosso poeta explica em detalhes
(ingenuamente em aparência, mas com uma leve impertinência que não posso
repreender) a construção empregada por ele, a adaptação do ritmo, a
escolha de um refrão – o mais breve possível e o mais suscetível a
variadas aplicações, e, ao mesmo tempo, o mais representativo da
melancolia e do desespero, ornado da rima mais sonora (never more,
nunca mais) –, a escolha de um pássaro capaz de imitar a voz humana,
mas, ainda assim, um pássaro – o corvo – marcado na imaginação popular
por uma imagem funesta e fatal – a escolha do tom mais poético de todos,
o melancólico –, do sentimento mais poético, o amor por uma morta, etc.
“Não colocarei”, diz ele “o herói do meu poema em um ambiente pobre
porque a pobreza é trivial e contrária à ideia de beleza. Sua melancolia
terá por guarida um quarto mobilhado magnífica e poeticamente.” O
leitor surpreenderá em vários contos de Poe sintomas curiosos desse
gosto desmedido pelas formas belas, sobretudo pelas formas belas e
singulares, pelos ambientes ornados e pelas suntuosidades orientais.
Eu disse que esse ensaio me parecia marcado por uma leve
impertinência. Os partidários da inspiração quando muito não deixaram
de ver nisso uma blasfêmia e uma profanação; mas creio que o texto tenha
sido escrito especialmente para eles. Assim como certos escritores
afetam o abandono, visando a obra-prima de olhos fechados, cheios de
confiança na desordem, esperando que as letras lançadas ao teto caiam ao
chão em forma de poema, Edgar Poe – um dos homens mais inspirados que
já conheci – se vale da afetação para esconder a espontaneidade, para
simular sangue-frio e deliberação. “Acredito poder me exaltar,” diz ele
com um orgulho divertido que não considero mau gosto, “por nenhum ponto
da minha composição ter sido deixado à sorte e porque a obra toda
caminhou passo a passo rumo à sua meta com a precisão e a lógica
rigorosa de um problema matemático.” Apenas os amantes da sorte, os
fatalistas da inspiração e os fanáticos do verso branco poderiam achar bizarra sua minúcia. Não existe minúcia em matéria de arte.
Quanto aos versos brancos, acrescentarei que Poe dá extrema
importância à rima, e sua análise sobre o prazer matemático e musical
que o espírito tira da rima trouxe tanto cuidado e sutileza que tudo se
relaciona ao fazer poético. Ao mesmo tempo que mostra que o refrão é
suscetível de aplicações infinitamente variáveis, ele também buscou
rejuvenescer, redobrar o prazer da rima ao acrescentar esse elemento
inesperado, a estranheza, que é como o condimento indispensável
a toda beleza. O poeta faz, sobretudo, um uso feliz de repetições do
mesmo verso ou de vários, frases obstinadas que simulam as obsessões da
melancolia ou da ideia fixa – do refrão puro e simples, mas conduzido de
várias formas diferentes –, do refrão-variante que interpreta a
indolência e a distração – das rimas duplas e triplas, assim como de um
gênero de rima que ele introduz na poesia moderna, mas com mais precisão
e intenção, as surpresas do verso leonino.
É evidente que o valor de todos esses meios não pode ser verificado
senão ao colocá-los em prática; e uma tradução de poesia, tão desejada e
concentrada, pode ser um sonho doce, mas não mais que um sonho. Poe fez
pouca poesia; algumas vezes chegou a expressar pena por não poder se
dedicar não com mais frequência, mas exclusivamente, a esse gênero de
trabalho que considerava como o mais nobre. Mas sua poesia tem um efeito
poderoso. Não é a efusão ardente de Byron, nem a melancolia harmoniosa
de Tennyson, pela qual ele nutria, diga-se de passagem, uma admiração
quase fraterna. É algo profundo e resplandecente como um sonho,
misterioso e perfeito como cristal. Não é necessário, acredito, dizer
que os críticos americanos costumam denegrir essa poesia; recentemente,
encontrei em um dicionário de biografias americanas um artigo no qual
ela era descrita como estranheza, temia-se que essa Musa em trajes de
sábio não fizesse escola no glorioso país da moral útil, e, por fim,
lamentava-se que Poe não houvesse aplicado seu talento à expressão de
verdades morais em vez de desperdiçá-lo na busca de um ideal bizarro e
de espalhar por seus versos uma volúpia misteriosa, é verdade, mas
sensual.
Conhecemos essa esgrima leal. As repreensões que os maus críticos
fazem aos bons poetas são as mesmas em qualquer país. Ao ler esse
ensaio, tive a impressão de estar lendo a tradução de um desses
numerosos discursos de acusação dirigidos pelos críticos parisienses
contra os mais apaixonados pela perfeição dentre nós, poetas. Nossos
favoritos são fáceis de adivinhar, e toda alma tomada pela poesia pura
me compreenderá quando eu disser que, entre nossa raça antipoética,
Victor Hugo seria menos admirado se fosse perfeito, e que ele não pôde
redimir seu gênio lírico a não ser introduzindo à força, brutalmente, em
sua poesia o que Edgar Poe considera a heresia capital moderna – o ensino.
Charles Baudelaire
Tradução: Daniel Abrão
Fonte: Revista Cult

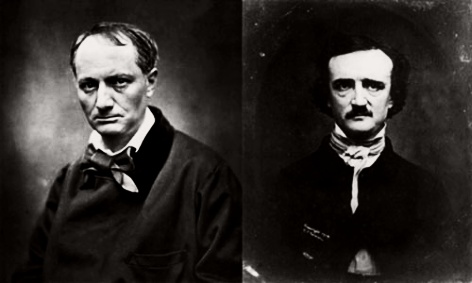
3 comentários:
Uau! Que chique! Paula, este teu post é um presente aos teus leitores! Obrigado por compartilhar.
Abraços sempre afetuosos.
Fábio.
Obrigada Paula, por nos presentear com esse belo texto.
Amei!
Abraços
Giovanna
obrigado pelo texto. longo, mas da pra ler. joia seu espaço paula. parabens. lamarque
Postar um comentário